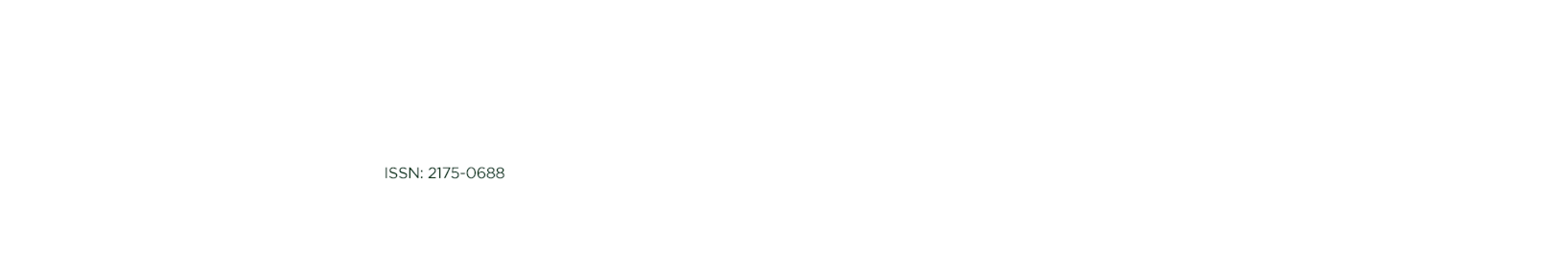
Musical chairs in the composition of the permanent committees of the Chamber of Deputies in Brazil (1991-2022)
Abstract
The article aims to present the intense exchange of vacancies in the standing committees of the Chamber of Deputies. It was adopted a longitudinal approach to the party composition of all standing committees installed in the Chamber of Deputies, in the period between 1991 and 2022. This is an exploratory, documentary analysis. Centrality measures that are closely associated with the possibility of embarrassment or influence of a given actor/party were elucidated. It was mobilized a set of network analysis techniques and models to demonstrate the occurrence of intense movement of vacancies in the composition of standing committees between the different parties represented in the Chamber of Deputies, regardless of the presidential administration. It is possible to risk saying, based on the data presented and notes, that this is not a specific phenomenon of a given moment, of a government or of a given coalition formation. The exchange of seats involves all parties and/or party blocs and all standing committees.
References
- ALBALA, A. Coalition presidentialism in bicameral congresses: how does the control of a bicameral majority affect coalition survival? Brazilian Political Science Review, v. 11, n. 2, p. 1–27, 2017.
- ALEJANDRO, V.; NORMAN, A. Manual introdutório a análise de redes sociais: medidas de centralidade. [S.l.]: Universidade Autônoma Del Estado de México, Centro de Capacitacion y Evaluacion para el Desarrolllo Rural S.C., 2005.
- ALVES, M. As flutuações de longo prazo da polarização no Brasil: análise do compartilhamento de informações políticas entre 2011 e 2019. Dados, v. 66, n. 2, p. 1–45, 2023.
- ANASTASIA, F.; MELO, C. R.; SANTOS, P. Governabilidade e representação política na América do Sul. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer, 2004.
- BERTHOLINI, F.; PEREIRA, C. Pagando o preço de governar: custos de gerência de coalizão no presidencialismo brasileiro. Revista de Administração Pública, v. 51, n. 4, p. 528–550, 2017.
- BORGATTI, S.; EVERETT, M. G.; JOHNSON, J. C. Analyzing social networks. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2015.
- CANATO, P. C. Intersetorialidade e redes sociais: uma análise da implementação de projetos para população em situação de rua em São Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Gestão de Políticas Públicas) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2017.
- CENTENO, A. R. Uma abordagem contextual das comissões parlamentares do Senado Federal brasileiro. Revista de Sociologia e Política, v. 30, n. 24, p. 2–18, 2022.
- CERVI, E. U. Manual de métodos quantitativos para iniciantes em Ciência Política. Curitiba: CPOP, 2019.
- CESÁRIO, P. Redes de influência no Congresso Nacional: como se articulam os pincipais grupos de interesse. Revista de Sociologia e Política, v. 24, n. 59, p. 109–127, 2016.
- COUTO, L.; SOARES, A.; LIVRAMENTO, B. Presidencialismo de coalizão: conceito e aplicação. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 34, p. 1–39, 2021.
- COX, G. W.; MCCUBBINS, M. D. Legislative leviathan: party government in the House. Berkley e Los Angeles: University of California Press, 1993.
- DINIZ, S. Processo legislativo e o sistema de comissões. Revista do Legislativo, p. 59–78, 1999.
- DINIZ, S. Interações entre os Poderes Executivo e Legislativo no processo decisório: avaliando sucesso e fracasso presidencial. Dados, v. 48, n. 2, p. 33–369, 2005.
- FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. Mudança constitucional, desempenho do Legislativo e consolidação institucional. In: XVIII ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS, 18., 1994, Caxambu, MG. Anais [...]. Caxambu, MG: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 1994. p. 1–34.
- FIGUEIREDO, A.; LIMONGI, F. Congresso Nacional: organização, processo lgislativo e produção legal. São Paulo, SP: CEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, 1996.
- FREEMAN, L. The development of social network analysis: a study in the sociology of science. Vancouver: Empirical Press, 2004.
- HIGGINS, S.; RIBEIRO, A. Análise de redes em Ciências Sociais. Brasília, DF: Enap, 2018.
- INÁCIO, M. Estrutura e funcionamento da Câmara dos Deputados. In: MELO, C. R.; SÁEZ, M. A. (org.) A democracia brasileira: balanço e perspectivas para o Século XXI. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007. p. 199–235.
- KREHBIEL, K. Information and legislative organization. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991.
- LIJPHART, Arend. Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries. Yale: Yale University Press, 1999.
- LIMONGI, F. O novo institucionalismo e os estudos legislativos: a literatura norte-americana recente. BIB – Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 37, p. 3–38, 1994.
- MANCUSO, W. O lobby da indústria no Congresso Nacional: empresariado e política no Brasil contemporâneo. São Paulo: Humanitas, 2007.
- MELO, C. R.; ANASTASIA, F. A reforma da previdência em dois tempos. Dados, v. 48, n. 2, p. 301–332, 2005.
- MÉNY, Y.; KNAPP, A. Government and politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany. [S.l.]: Oxford University Press, 1993. (Comparative European Politics).
- MÜLLER, G. Comissões e partidos políticos na Câmara dos Deputados: um estudo sobre os padrões partidários de recrutamento para as comissões permanentes. DADOS, v. 48, n. 1, p. 371–394, 2005.
- NASCIMENTO, E. O. O sistema de comissões brasileiro: elementos para uma agenda de pesquisa. Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política, v. 21, n. 2, p. 61–72, 2012.
- OLIVEIRA, M. D.; GAMA, J. A framework to monitor clusters evolution applied to economy and finance problems. Intelligent Data Analysis, v. 16, n. 1, p. 93–111, 2012.
- PENNA, C. C. Activism inside and outside the State: agrarian reform activists and bureaucrats in the state of Pará, Brazil. Revue Internationale des Études du Développement, v. 230, p. 103–125, 2017.
- PEREIRA, C.; MUELLER, B. Uma teoria da preponderância do Poder Executivo: o sistema de comissões no Legislativo brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 15, n. 43, p. 45–67, 2000.
- RAILE, E.; PEREIRA, C.; POWER, T. The Executive toolbox: building Legislative support in a multiparty presidential regime. Political Research Quarterly, v. 64, n. 2, p. 323–334, 2011.
- RESENDE, C. Redes de interesse organizados no sistema comissional da Câmara dos Deputados. Revista de Sociologia e Política, v. 30, n. 11, p. 1–21, 2022.
- ROCHA, M. M.; BARBOSA, C. F. Regras, incentivos e comportamento: as comissões parlamentares nos países do Cone Sul. Revista de Sociologia e Política, v. 16, p. 93–104, 2008.
- SANTOS, F. Patronagem e poder de agenda na política brasileira. DADOS, v. 40, n. 3, p. 465–492, 1997.
- SANTOS, F. Partidos e comissões no presidencialismo de coalizão. DADOS, v. 45, n. 2, p. 237–264, 2002.
- SANTOS, F. Partidos e comissões no presidencialismo de coalizão. In: SANTOS, F. O Poder Legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: UFMG/IUPERJ, 2003.
- SANTOS, F. O Legislativo em busca de informação: um estudo da estrutura de assessoria da Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2014.
- SANTOS, F.; ALMEIDA, A. Teoria Informacional e a seleção de relatores na Câmara dos Deputados. DADOS, v. 48, n. 4, p. 293–735, 2005.
- SANTOS, F.; ALMEIDA, A. Fundamentos informacionais do presidencialismo de coalizão. Curitiba, PR: Appris, 2011.
- SARTORI, G. A teoria da democracia revisitada. São Paulo, SP: Ática, 1994. v. 1.
- SHEPSLE, K. Institutional equilibrium and equilibrium institutions. Political Science: The Science of Politics, v. 51, p. 1–56, 1986.
- SHEPSLE, K.; WEINGAST, B. The institutional foundations of Committee Power. American Political Science Review, v. 81, n. 1, p. 85–104, 1987.
- SILAME, T. R. Comissões permanentes e política de recrutamento nas Assembleias Legislativas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
- SILVEIRA, M. Circulação de ideias e práticas ao longo do tempo: o processo de consolidação do trabalho social em projetos de urbanização de favelas da CDHU. In: VIII SEMINÁRIO DISCENTE DA PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA DA USP, 2018, São Paulo, SP. Anais [...]. São Paulo, SP: Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da USP, 2018. p. 1–46. Disponível em: https://sdpscp.fflch.usp.br/sites/sdpscp.fflch.usp.br/files/inline-files/2258-3024-1-PB.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.
- STROGATZ, S. Exploring complex networks. Nature, v. 410, p. 268–276, 2001.
- TSEBELIS, G. Veto players: how political institutions work. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002.
- VASQUEZ, V. L. Comissões: o poder do Legislativo. 2020. Tese (Doutorado em Ciência Política) –Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2020.
